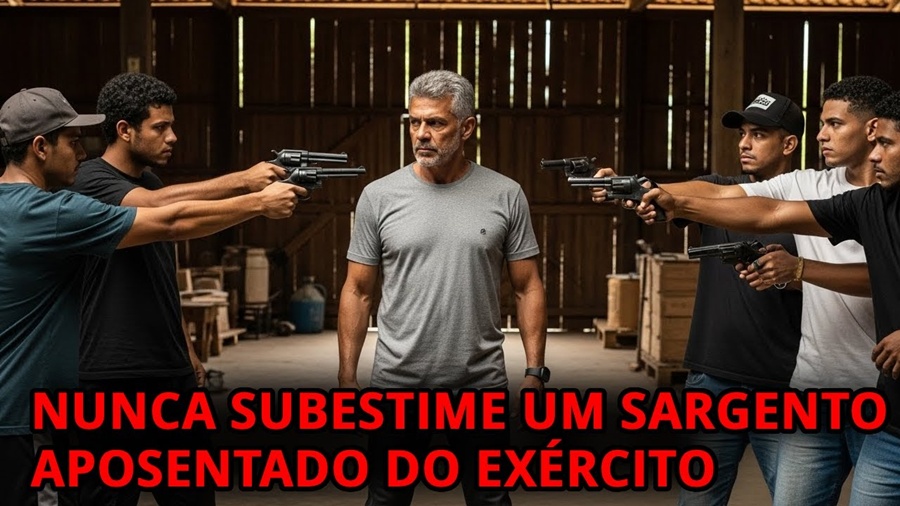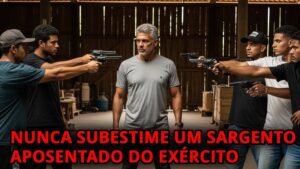Naquela manhã, o sol ainda não tinha coragem de atravessar os vidros altos da casa. A brisa de Jurerê vinha leve, cheirando amarezia e pão recém- saído da padaria da esquina. Mas ali dentro o ar parecia preso, as janelas fechadas, o relógio digital pulsando no silêncio, o som constante do ar condicionado, como um peito que tenta, mas não consegue respirar.
Eduardo Carvalho desceu as escadas com a precisão de quem aprendeu a se mover sem ruído. Cada passo medido, cada respiração controlada. vestia a mesma camisa branca que usava nas segundas, mesmo que fosse terça. O mesmo perfume amadeirado que há um ano já não combinava com ele. A casa refletia o mesmo padrão, perfeita, polida, estéril, uma vitrine de luto.
Do alto da escada, ele via o corredor de vidro conduzindo até a piscina, o coração transparente da mansão, mas evitava olhar por muito tempo. Aquela parte da casa lembrava demais o riso de Mariana. E fazia um ano que ninguém ria ali. No térrio, o som de talheres sendo organizados interrompeu o silêncio. Era Ana Luía, a nova cuidadora, a terceira em dois meses.
Eduardo não esperava nada dela e, no fundo, temia que ela esperasse algo dele. Quando Ana chegou no domingo, ele mal levantou os olhos dos papéis. apenas disse: “Os meninos têm rotina, horário de remédio, fisioterapia, alimentação, tudo está na planilha”. Ela apenas respondeu: “Eu vi, sim, mas rotina também precisa de ar, senor Eduardo.
” Naquele momento, ele achou a frase bonita, mas ingênua. Hoje, enquanto pegava a caneca de café, a lembrança voltou e pela primeira vez ele se perguntou o que ela quis dizer. O cheiro do café se espalhava pela cozinha moderna. O silêncio quase respeitoso. Ana entrou amarrando o cabelo num coque apressado, usando uma blusa simples, azul.
Havia algo calmo nela, como se o corpo inteiro respirasse por onde a casa não conseguia. “Os meninos estão no jardim”, disse ela, enxugando as mãos num pano de prato. Eduardo assentiu sem olhar, certo? Cuidado com o vento, ele sempre muda de repente. Foi então que ouviu. Baixo, breve, uma risada. Parou de mexer o café, achou que era a televisão ou um som vindo da rua, mas a risada veio de novo, dessa vez em eco, se multiplicando, crescendo.
Uma risada dupla, infantil. Seu coração se contraiu. Há quanto tempo ele não ouvia aquilo? Sem perceber, deixou a caneca no balcão e começou a caminhar até o corredor de vidro. O chão de pedra fria devolvia o som das passadas. A cada passo, a risada se aproximava, leve, molhada, real. Quando chegou às portas da piscina, viu a cena parecia pintada com luz.
A água morna refletia o azul do céu e o cabelo escuro de Ana. Ela estava dentro da piscina, ajoelhada, sustentando os dois meninos, Léo e Nô, com faixas de espuma colorida amarradas ao corpo. Os cintos tinham costuras manuais, pequenas estrelas bordadas nas laterais. Ela contava alto como uma comandante de foguete. 3 2 1 decolagem. E os meninos? Aqueles mesmos que há meses se recusavam a encarar o próprio reflexo, mergulhavam de alegria, chutando, rindo, gritando.
A água batia nas bordas, molhando o piso. Eduardo congelou. Por um instante, o mundo perdeu nitidez. O som do filtro da piscina sumiu. O vento lá fora cessou. Havia apenas aquele riso vivo, completo, o mesmo som que o tempo tinha sequestrado no dia do velório de Mariana. Ele pressionou a mão contra o vidro, sentiu o frio atravessar a pele, subir até o peito.
O corpo queria avançar, mas a culpa o segurava, culpa por não ter sido ele o motivo daquele riso. Ana virou o rosto devagar, como se tivesse sentido o olhar dele sem precisar vê-lo. Seus olhos o encontraram através do vidro. Nenhuma culpa, nenhum susto, apenas consciência. Ela ergueu a mão, palma aberta, em um gesto pequeno.
Não dizia pare. Dizia entre. Eduardo ficou ali indeciso, com o reflexo da própria hesitação tremendo no vidro. Dentro da água, Ana continuava o jogo. Capitão Léo à direita, Capitão No à esquerda. Preparem-se para o pouso. Léo soltou um jato de água rindo. No tentou repetir a palavra ameagem. Saiu torta, arrastada, mas real.
Ana vibrou, batendo palmas molhadas. Isso mesmo, você conseguiu. A risada dele se espalhou como perfume doce no ar. Eduardo sentiu o peito apertar, como se um músculo esquecido tentasse reanimar. Pensou em todas as terapias. caras, nos relatórios dos especialistas, nas estatísticas. Nada daquilo havia produzido essa leveza.
E em menos de uma semana, essa mulher desconhecida havia feito o impossível. O impossível e o simples. Quando Ana saiu da piscina, envolveu os meninos em toalhas azuis. O vapor subiu, borrando o vidro diante de Eduardo. Por um segundo, ele se viu refletido ali junto deles. Um homem dentro da névoa. Ana percebeu, olhou para ele de novo.
O olhar dela não pedia a aprovação. Oferecia um convite. Ele quase entrou, quase disse algo, mas o passado pesou mais. O medo de quebrar o luto o manteve imóvel. O sol atravessou as folhas dojardim e tocou o rosto dela. Havia uma serenidade ali que o desarmou. Eduardo voltou lentamente para a cozinha.
O café já estava frio. O pano de prato ainda pendurado no balcão, com a marca de uma mão pequena, úmida, deixada por um dos meninos. Ele passou o dedo sobre aquela marca. Era uma mancha leve, mas firme. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa pareceu diferente. Não era mais um silêncio de ausência, era o silêncio de algo prestes a mudar.
Na manhã seguinte, a luz entrou antes dele. A casa cheirava a morango e som de liquidificador. Eduardo apareceu no batente da cozinha e encontrou Ana de costas, misturando frutas com os meninos ao redor. “Banana”, ela dizia. “Repete comigo, Léo”, o menino sussurrou, quase inaudível. “Banana!”, Ela sorriu muito bem, capitão.
No ao lado colou um adesivo colorido na bancada perto do cotovelo dela. Ana olhou e traduziu: “Isso é um sim, né?” O garoto riu, um riso mudo, mas cheio de brilho. Eduardo assistia tudo em silêncio, tentando entender. Quando o copo tombou e o suco escorreu pela mesa, ele deu um passo à frente, reflexo automático, mas Ana fez um gesto suave com a mão.
Calma, eles sabem esperar. pegou a toalha, secou devagar, sem bronca, sem pressa. O erro virou brincadeira e ele, pela primeira vez percebeu que estar presente não era o mesmo que estar junto. Depois que os meninos foram brincar, Ana anotou algo num caderninho de capa gasta. Escrevia rápido, concentrada.
Deixou o caderno aberto sobre a bancada. Eduardo só viu quando voltou à noite. Um bilhete simples, letra firme. Eu vejo o que eles já conseguem. Começamos daí. Ele dobrou o papel, guardou na carteira, ao lado da foto antiga de Mariana, com os gêmeos na praia. As ondas ao fundo pareciam rir. Lá fora, o vento mudava de direção e dentro da casa, um som quase imperceptível começou a nascer.
Não era música nem fala, era apenas o ar, voltando a circular. A casa, enfim, lembrava como respirar. Naquela tarde, o sol descia pressa sobre o bairro de Jurerê. As folhas das palmeiras se moviam lentas, como se o vento também tivesse aprendido a respeitar o novo ritmo da casa. No quintal, o som da piscina já não era um ruído de fundo, era parte da trilha.
Risadas, respingos, vozes pequenas. A casa que havia esquecido de respirar agora parecia ter pulmões. Eduardo assistia de longe da varanda, as mangas da camisa dobradas, uma xícara esquecida na mão, o olhar fixo em Ana Luía que montava algo dentro da garagem. Nos primeiros dias, ele achou estranho o quanto ela se demorava naquele espaço.
Um lugar de caixas velhas, bicicletas e ferramentas que ele mal sabia usar. Mas agora a garagem parecia viva. Cheirava a cola quente e espuma nova. Ana usava um avental azul manchado de tinta. No chão, rolos de neoprene, faixas de velcro, pedacinhos de fita com glitter. Ela cortava, costurava, colava como quem preparava um ritual secreto.
“O que você tá aprontando aí?”, perguntou ele, tentando soar casual. Ela levantou o rosto e sorriu com o canto da boca. “Uma nave”, disse simplesmente. Eduardo franziu o senho. “Uma nave?” “Os meninos vão precisar dela”, respondeu voltando à tarefa. No fim da tarde, o projeto estava pronto. Dois cintos de espuma colorida feitos com o material das boias antigas da piscina.
Nas laterais, pequenas estrelas costuradas à mão e duas coroas de papel cartão, tortas cobertas de purpurina. Ana entrou com tudo aquilo equilibrado nos braços, chamando os gêmeos. Capitão Léo, capitão No favor comparecer à base espacial. Os meninos chegaram nas cadeiras de rodas, curiosos.
“É para voar?”, perguntou Léo, semicerrando os olhos. “É para tentar”, respondeu ela. “E tentar já é quase voar”. Eduardo observava de perto agora, apoiado no batente da porta, mas sem intervir. Ana ajoelhou diante deles, colocou as coroas. “Sabe por ela tá torta?”, perguntou a Nô. O menino balançou a cabeça. Porque os capitães de verdade já passaram por tempestades? Ele riu.
Um riso que saiu com espanto, como se não acreditasse no próprio som. Os dois colocaram os cintos de decolagem e foram até a piscina. Lá dentro, Ana conduzia com a leveza de quem dança. Tr. Lançar. E o quintal se encheu de respingos e gritos. Eduardo prendeu a respiração, mas dessa vez o ar que faltava não era de medo, era de emoção. Ele se aproximou do vidro e viu Léo boiando de costas, braços abertos como asas.
No imitando o irmão, rindo descompassado. O sol refletia nas boias, pintando a água de laranja e dourado. E por um segundo, Eduardo pensou que aquele podia ser o som mais bonito do mundo. Nos dias seguintes, a casa ganhou o ritmo próprio. De manhã, o liquidificador virava trilha sonora. Ana nomeava as frutas, banana, morango, abacate e esperava o eco.
Léo repetia com a voz trêmula. No respondia com adesivos coloridos. Cada adesivo era um sim, uma tentativa, uma vitória. À tarde, o quintal virava laboratório, a garagem,centro de comando, e o quadro branco, antes cheio de planilhas de terapia, agora exibia desenhos, metas coloridas e frases escritas com letra infantil. No canto da cozinha, um novo objeto aparecera, um caderno de capa simples.
Ana escrevia nele todas as noites com caneta preta e calma. Hoje No segurou o copo sozinho. Léo riu na água. Eduardo olhou e não corrigiu. Ela deixava o caderno aberto na bancada, nunca escondia. Na primeira vez que Eduardo leu, sentiu uma estranha mistura de vergonha e gratidão. Era como se a casa tivesse virado um diário coletivo.
Uma noite, ele pegou a caneta, escreveu apenas quatro palavras. Hoje eu ri também. No dia seguinte, encontrou um pequeno coração desenhado no canto da página. No domingo, Ana apareceu com uma ideia ousada. Vamos à praia. Eduardo levantou os olhos do notebook surpreso. A praia. Eles não podem. Eles podem tentar, interrompeu ela.
E tentar ainda é quase voar, lembra? Ele hesitou, olhou para o calendário cheio de compromissos para a pilha de relatórios que sempre o protegiam do imprevisto, mas algo, na firmeza dela, o desarmou. E de repente estavam todos dentro da van adaptada, descendo a avenida até o mar. O vento batia pelas janelas abertas, cheirando a sal e liberdade.
Léo encostava o rosto no vidro hipnotizado. No segurava a mão de Ana. Quando chegaram à areia, o coração de Eduardo travou. O chão era fofo demais, irregular demais, cheio de riscos. Mas Ana já falava com um salvavidas, uma mulher bronzeada chamada Marisa, que trouxe uma cadeira de rodas anfíbia, aquelas com pneus grandes, próprios paraa areia.
Eles vão ficar bem, garantiu, sorrindo. Ana conduziu o primeiro no até a beira da água. Eduardo seguiu atrás, empurrando a cadeira de Léo, os pés afundando na areia quente. A maré se aproximava, azul e viva. “Vê essa linha de conchas?”, perguntou Ana. “É pista de pouso dos astronautas”. Os meninos riram. A primeira onda veio fria, rápida, lambendo os pés de todos.
Eles gritaram e depois riram mais alto ainda. Eduardo ficou parado, as calças molhadas até o joelho, observando. O vento bagunçava o cabelo de Ana e por um instante ele se perguntou quando tinha sido a última vez que viu alguém se doar assim com tanta entrega simples. Na volta para casa, os meninos dormiram no banco de trás, exaustos e felizes.
Ana, no banco da frente, olhava pela janela, o rosto tranquilo, o sal ainda grudado na pele. Eduardo dirigia em silêncio, mas dentro dele algo pulsava, uma paz inédita e um medo também, o medo de que aquilo não durasse. Na manhã seguinte, a cozinha amanheceu com novidade. Na geladeira, presa por um ímã em forma de estrela, uma foto, aquela da praia, tirada sem pose, com o cabelo dos meninos voando e o mar atrás.
Abaixo da foto, uma palavra escrita à mão. Começamos. E em volta, pequenas figuras adesivas, corações, raios, estrelas. O mural das vitórias havia nascido. Cada adesivo novo era uma conquista. Dia sem choro. Nova palavra dita. Primeira colher de sopa sozinha. Pequenas coisas, grandes oceanos. Eduardo à noite ficou olhando aquele mural.
Sentiu orgulho, mas também uma pontada antiga, de culpa talvez, por ter demorado tanto para entender que alegria também é terapia. Foi nesse momento que o interfone tocou. Um som seco, inconveniente. Do outro lado, um homem de palitó marrom se apresentou. Senr. Eduardo Carvalho, sou do Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia sobre atividades inadequadas com menores portadores de deficiência.
O mundo parou por um segundo. Ana estava na piscina com os meninos. Eduardo saiu correndo, o coração acelerado. O agente entrou com prancheta na mão. Preciso fazer algumas perguntas. Ana saiu da água com calma. Envolveu as crianças nas toalhas. Não havia medo em seus gestos, apenas firmeza.
Sou formada em cuidado pediátrico, certificada em RCP e trabalho há 5 anos com fisioterapia aquática. disse: “Nenhuma atividade é feita sem supervisão.” O homem anotava sem levantar os olhos. Depois perguntou aos meninos: “Vocês gostam dela?” Léo olhou para Nu, que olhou para Ana, e então Léo disse simples: “Ela faz o dia ficar leve”.
O agente levantou os olhos, ficou em silêncio, depois respirou fundo. “Continuem”, murmurou, “e registrem tudo, não para mim, para vocês. Guardem memória.” Quando ele foi embora, Ana se sentou no sofá exausta. Eduardo ficou em pé, sem saber se devia pedir desculpas ou agradecer. Do lado de fora, o vento soprava mais forte, mas dentro da casa, o mural na geladeira tremulava com as janelas abertas, cheio de cores, de adesivos e pequenas vitórias.
E de repente o que era medo virou certeza. A casa não só respirava, agora ela cantava. A chuva chegou fina, como quem pede licença. Caía sobre o telhado de vidro da varanda, desenhando linhas que escorriam lentas, unindo céu e casa num mesmo suspiro. Eduardo ficou olhando, sem saber se era o som da água ou o cansaço que fazia sua cabeça pesar.
Os últimos dias tinham sido uma mistura de milagre e desconfiança. Desde a visita do Conselho Tutelar, ele dormia mal. O susto da denúncia ainda reverberava no peito, mas mais do que isso, a consciência de que por um momento ele duvidou dela. Ana seguia o mesmo, calma, concentrada, firme, mas havia algo diferente em seu olhar, uma sombra leve, quase imperceptível, como se o sol dentro dela tivesse acendido. Com cuidado demais.
Naquela noite, No começou a torcir e antes que o relógio marcasse meia-noite, a febre chegou. Eduardo acordou com o som abafado do monitor, correu até o quarto e o encontrou quente, ofegante, os olhos de No perdidos no vazio. Ana já estava ali sentada na beira da cama com a toalha fria sobre a testa do menino. “Tá subindo rápido”, murmurou ela.
“Eu ligo pro médico, mas o menino sussurrou fraco. Algo que travou os dois. A música da lua. Ana ergueu o rosto confusa. Eduardo entendeu antes dela a música da lua, a canção que Mariana cantava para fazê-los dormir. O mesmo canto que não ecoava desde o velório. Um silêncio espesso caiu sobre o quarto. Ana olhou para ele esperando alguma reação, mas Eduardo estava imóvel.
Ela levantou devagar e saiu sem dizer nada. Ele achou que fosse buscar remédio, mas minutos depois ouviu um som que não vinha do corredor, vinha de um lugar onde o som estava proibido, o piano, a sala de música, aquela que ficava trancada desde o dia em que Mariana se foi. Eduardo congelou no meio do corredor, o coração disparando.
A luz estava acesa e lá dentro Ana tocava. Não era uma música inteira nem perfeita. As notas saíam quebradas, hesitantes, mas vivas. Sobre o piano, uma partitura amarelada escrita a lápis, Canção da Lua. Ana cantava baixinho, quase um sussurro. A melodia atravessava as paredes e parecia curar o ar. Eduardo encostou na porta sem coragem de entrar.
O cheiro do quarto, mistura de madeira antiga e lavanda seca, o atingiu como lembrança. Durante meses, ele fingiu que aquela sala não existia, que trancar a dor era a mesma coisa que superá-la. Mas ali agora a dor tinha som e estava viva outra vez. Ana virou o rosto e o viu parado. Não recuou, apenas afastou um pouco no banco e disse com a voz serena: “Sent! Ele hesitou. Eu não lembro mais.
Não precisa lembrar, respondeu. Só tenta. Eduardo se aproximou devagar, como quem pisa em chão sagrado. Sentou ao lado dela. O banco rangeu. O metrônomo, esquecido no canto ainda marcava o tempo. Tic, tac, tic tac. Ele colocou as mãos sobre as teclas, os dedos tremiam. A primeira nota saiu dissonante, depois outra e outra, até que o som torto encontrou o dela.
Por alguns minutos, o luto deixou de ser pedra. Virou música imperfeita, mas possível. Quando a última nota se perdeu, Ana respirou fundo e sussurrou. Ele dormiu. Eduardo olhou para o corredor. De fato, o choro tinha cessado. O silêncio agora era de descanso. Ele fechou o piano com cuidado, mas não trancou. Na manhã seguinte, a casa amanheceu com cheiro de pão quente e café novo.
Os meninos desenhavam na mesa, ainda de pijama. Ana passava manteiga no pão, distraída. Eduardo entrou, o cabelo bagunçado, o rosto cansado, mas leve. Ela levantou os olhos. Nenhum deles falou da noite anterior. Não precisava, mas o destino parecia querer testar a paz recém encontrada. Às 10 horas, o portão eletrônico anunciou uma visita. Dr.
Henrique Rocha, o pediatra renomado, o homem das planilhas e dos relatórios. Eduardo sentiu o corpo endurecer. Henrique entrou com a autoconfiança de quem está acostumado a ser ouvido. Cumprimentou Eduardo. Olhou de relance para Ana e os meninos. “Fico feliz em ver progresso”, disse ele sem emoção. “Mas precisamos discutir limites.
” Enquanto falava, seus olhos se moviam de forma fria, medindo o ambiente como quem avalia uma experiência, não uma família. E então soltou. Ela é a ajuda, certo? O ar pesou. Ana se endireitou, mas não respondeu. Eduardo fechou a mão sobre o copo de água. Por um instante, quis seguir o protocolo, mas algo dentro dele quebrou. Não disse com a voz firme.
Ela é a razão. O médico arqueou a sobrancelha surpreso. Razão do quê? Eduardo se levantou. da risada deles, da calma, do progresso, da vida que voltou a entrar aqui. O silêncio se estendeu. Henrique recolheu os papéis desconcertado. “Entendo”, murmurou sem entender nada. Saiu deixando o perfume caro e um vazio leve no ar.
Ana ficou parada com as mãos trêmulas. Os meninos olhavam sem entender, mas sentiam algo diferente. O pai finalmente tinha escolhido um lado. Mais tarde, Ana saiu para buscar materiais. Ficou mais tempo do que o habitual. Eduardo tentou fingir normalidade, mas o relógio parecia zombar dele. Quando ela voltou, o sol já descia.
Os olhos estavam vermelhos, o rosto inchado. “Teve trânsito?”, perguntou ele cauteloso. Ela hesitou um segundo antes de responder. Teve, mas o trânsito que ela enfrentara não era de carros, era de mágoas. Naquela noite,ninguém escreveu nada no caderno. O mural da geladeira ficou sem novo adesivo. O ar parecia cansado outra vez. De madrugada, Eduardo desceu para beber água. A luz da cozinha estava acesa.
Ana sentada à mesa, o rosto escondido nas mãos. Ele parou na porta em silêncio. Não sabia o que dizer. Até que ouviu um barulho pequeno. Dois passinhos descalços. Léo e Noa apareceram meio sonâmbulos e foram direto até ela. Sem falar nada, colaram um adesivo de coração no ombro de Ana. Porque você não chorou na nossa frente? Disse Léo com a voz arrastada. Ana riu entre lágrimas.
Eduardo ficou parado, sentindo o nó na garganta, e naquele momento percebeu. Eles tinham aprendido com ela, não só a rir, mas a consolar. Dois dias depois, o portão tocou de novo. Dessa vez era o Senr. Azevedo, o agente do Conselho Tutelar. Entrou sorrindo, sem prancheta. Prometi que voltaria só para ver com meus próprios olhos.
acompanhou os meninos até a garagem, viu o mural na geladeira, a parede cheia de mãos pintadas, o piano aberto, o quarto de Mariana agora cheio de desenhos e plantas. fechou a pasta, que dessa vez estava vazia, olhou para Eduardo e disse: “Isso é progresso. Continuem documentando.” Quando foi embora, o silêncio que ficou não era mais o mesmo.
Era um silêncio cheio de respeito. Eduardo passou pelo corredor e parou diante da porta da sala de música. A luz do fim de tarde entrava pelas fras. Ele abriu devagar. O metrônomo, ainda em cima do piano, marcava um ritmo leve, como se alguém o tivesse ligado mais cedo. Tic tac, tic tac. Eduardo sorriu. Pela primeira vez, não sentiu medo de entrar, nem culpa de lembrar.
A porta permanecia aberta, e o som que preenchia a casa agora não era o do luto, era o do tempo voltando a andar. O céu de Florianópolis tinha aquela cor cinza que anuncia o inevitável. As nuvens se acumulavam por trás das montanhas, pesadas, prontas para cair. Eduardo observava da janela do escritório, enquanto os primeiros trovões tremiam de leve os vidros.
Lá embaixo, Ana e os meninos organizavam brinquedos no chão da sala. Uma pequena cidade feita de blocos coloridos, ruas desenhadas com fita adesiva, carrinhos de papel. A voz de Ana soava calma, firme, como sempre. Cada um tem seu abrigo. Quando vem a chuva, o que a gente faz? A gente fica junto, respondeu Léo. Isso mesmo.
Ficar junto é o nosso guarda-chuva. Eduardo sorriu sem perceber, mas o sorriso durou pouco, um estalo seco, a luz piscou, o temporal chegou de vez. A primeira rajada de vento balançou as janelas. A casa inteira gemeu. O som da chuva, subindo pelos vidros era como um grito de água. “Eu vou desligar o elevador antes que falte energia”, disse Eduardo, já se levantando.
Ana acenou ainda tranquila. Tá bem, a gente vai pro mesanino guardar as coisas. Ele pegou o celular, tentou ligar o disjuntor pelo aplicativo, mas a conexão falhou. Outro trovão, um segundo estalo. E então, silêncio, tudo apagou. Ana, nenhuma resposta. O corredor estava escuro. Apenas um filete de luz vinha da clarabóia.
Ele ouviu vozes fracas, abafadas e um som metálico. O elevador, o coração dele disparou, correu, os passos batendo alto nas escadas. Ana, nada, apenas o barulho de chuva e o tique nervoso do relógio da parede. Eduardo encostou o ouvido na porta de metal. Do outro lado, ouviu o choro contido de No e o sussurro de Ana. Tá tudo bem? Respira comigo. Tá assim, ó.
O som de mãos batendo de leve no metal, compassadas, marcando um ritmo. Tum, tum, tum. Onde vocês estão? Gritou ele. No elevador, respondeu ela, a voz abafada. Parou entre os andares. Eles estão com medo. Calma, eu vou buscar ajuda. Espera. A voz dela atravessou o ferro com uma serenidade que o desarmou. Primeiro, a gente precisa fazer o medo caber.
Eduardo ficou parado, sem saber o que isso significava, mas então, do outro lado da porta, ouviu o que parecia uma história. Ana contava: Era uma vez três astronautas presos entre as estrelas. Lá fora, a tempestade rugia. Lá dentro, ela transformava o pânico em conto. Eles estavam com medo do escuro, até que descobriram que o escuro era onde o coração batia mais forte.
Os meninos começaram a acompanhar, batucando junto no ritmo. Tum, tum tum. Eduardo encostou a testa no metal frio. O som do batucar vinha de lá, vivo, firme, e ele percebeu que, pela primeira vez não era ele quem controlava a situação, era ela, era Ana, era o amor simples e paciente que segurava aquela casa de pé.
O síndico chegou molhado, trazendo um técnico. Foram minutos longos, fios, lanternas, alavancas. Quando finalmente a porta abriu, uma onda de ar quente saiu, como se a casa tivesse prendido o fôlego junto com eles. Ana estava sentada no chão do elevador, o cabelo colado na testa, os meninos abraçados no colo. O olhar dela encontrou o dele. Eles estão bem.
Eduardo não conseguiu responder, ajoelhou, segurou o rosto de No e de Léo e depois olhou para Ana. As palavras vieram curtas. Roucas, fica. Ela pareceunão entender. O quê? Fica. repetiu, mais baixo, mais verdadeiro. Não só hoje. O trovão rugiu de novo, mas dentro da casa o som era outro, um silêncio cheio de decisão.
Na manhã seguinte, o céu estava lavado. O ar cheirava a terra molhada e pão quente. Eduardo desceu as escadas e encontrou Ana preparando café. Os meninos desenhavam numa folha grande, espalhados pelo chão. “O que é isso?”, perguntou curioso. Léo ergueu o papel, um desenho colorido da casa, mas havia algo novo.
Quatro figuras de mãos dadas, pintadas de azul. “É gente”. Eduardo olhou para Ana. Ela desviou o olhar, disfarçando o sorriso. “Eles quiseram colocar todo mundo, né?” Ele se aproximou, ajoelhou e passou o dedo sobre a pintura. A tinta ainda úmida, manchou a ponta dos dedos como uma assinatura involuntária. Mais tarde, pegou a chave antiga e abriu a porta da antiga sala de música.
Entrou com os meninos, depois chamou Ana. A luz do sol entrava em feixes dourados, dançando no pós suspenso. “O que a gente faz com esse lugar?”, perguntou Léo. Pensou um pouco. A gente pinta de céu. E foi isso que fizeram. No final da tarde estavam todos com respingos de tinta pelos braços. A cor primeira luz, um azul suave que parecia respirar. Ana ria.
Os meninos tentavam alcançar o alto com pincéis improvisados. Eduardo observa entre encantado e emocionado. No de repente disse: “Falta a nossa marca”. E mergulhou as mãos na tinta, carimbou na parede. Depois, Léo fez o mesmo. Ana hesitou, mas os meninos insistiram. Ela cedeu. Mãos pequenas, mãos dela, lado a lado.
Eduardo pegou o pincel, com a tinta ainda escorrendo, escreveu devagar por cima do contorno das mãos dela, Ana Luía. O nome ficou torto, mas forte. Ninguém falou nada, mas todos entenderam. À noite, a casa estava diferente, mais leve, mais viva. Eduardo trouxe uma pilha de papéis e colocou sobre a mesa da sala. Ana olhou confusa. O que é isso? Não é contrato? Ele respondeu. É promessa.
Pegou um dos papéis e leu em voz baixa, quase como se estivesse rezando. Nesta casa, alegria é método, cansaço é dividido. Pequenas vitórias são guardadas. E Ana Luía não é ajuda. Ana Luía é família. Os meninos bateram palmas rindo. Eu quero assinar também. Eduardo deu uma folha para cada um. Léo desenhou um coração.
No fez suas iniciais com lápis de cera azul. Ana, emocionada, assinou por último. As mãos tremiam um pouco, mas o sorriso era firme. “Nunca vi um contrato tão bonito”, sussurrou Eduardo. Respondeu: “É que ele não cabe em papel. Mais tarde, já de noite, voltaram à piscina. O vento soprava leve. O reflexo da lua tremia na água.
Dessa vez, ninguém levava boias, nem regras, nem medos. Ana entrou primeiro, os meninos depois. Eduardo, sem pensar, tirou os sapatos e mergulhou junto. A água estava morna. Os quatro ficaram ali flutuando, rindo baixo. O som da cidade ao longe parecia distante e relevante. Três, 2, um começou Ana. Decola! Gritaram os meninos.
Mas ninguém saiu do lugar, porque agora não precisavam voar para se sentirem livres. Eduardo olhou para ela, os cabelos grudados no rosto, o riso aberto e teve certeza aquele era o lar que Mariana teria querido para eles. Do outro lado do vidro, a foto da praia ainda brilhava presa na geladeira, sob o imã que dizia: “Começamos!” E agora alguém tinha acrescentado outra palavra.
escrita à mão simples e sincera. Continuamos. A câmera imaginária se afastaria devagar pela janela, pelo reflexo da água, pelo som do riso misturado à chuva distante. casa enfim exalava e respirava como quem agradece por ainda estar viva.