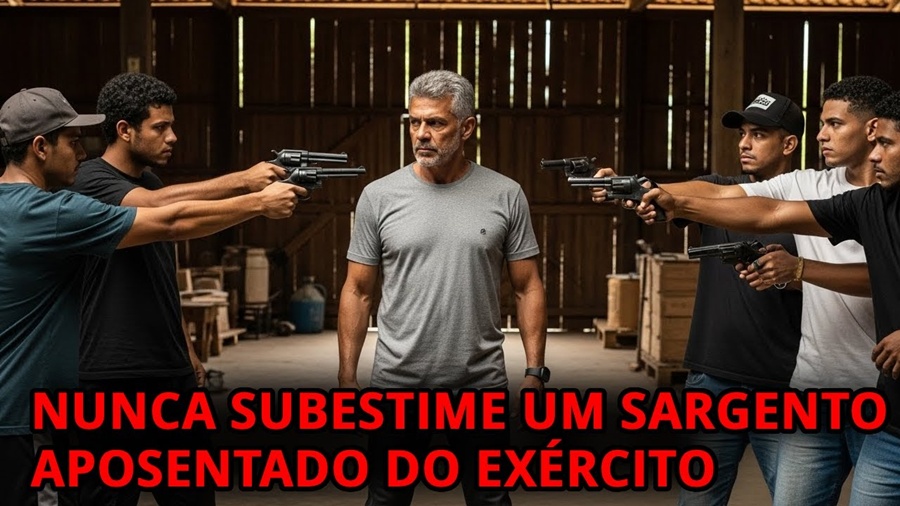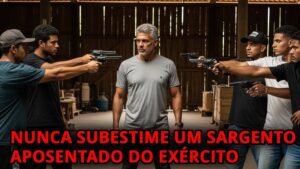O som do mar vinha de longe, abafado, como se respirasse dentro das paredes. O sol ainda não havia subido por completo, mas a claridade já se infiltrava pelas frestas da cortina. Uma luz fria, azulada, que riscava o berço no centro do quarto. Tudo estava imóvel. O móbele, pendurado sobre o bebê, girava devagar, empurrado por um vento quase invisível.
Nenhuma música, nenhum choro, apenas o tic-tacque do relógio no corredor, ecoando como um coração cansado. André Whtman ficou parado ali imóvel, com o filho nos braços. Eli respirava tranquilo, mas o olhar, aquele olhar parado, opaco, nunca o seguia. Ele balançou o chocalho colorido, esperou nada. abriu as cortinas com força.
A claridade explodiu pelo quarto, refletindo no chão de madeira polida. Os olhos de Eli permaneceram os mesmos, abertos, mas distantes. André ficou ali, olhando para o filho, como quem tenta alcançar um lugar impossível. Fazia meses que aquele silêncio tomava a casa. Desde o acidente de helicóptero em Angra dos Reis, que levara a esposa, ele não deixava mais ninguém entrar.
A mansão ficava no alto do Joá, cercada de verde e de um vazio que não perdoava. Ele acordava, preparava o leite, aquecia na temperatura exata, trocava as fraldas, lia as instruções dos médicos uma, duas, três vezes, como se pudesse decifrar ali o que estava errado. Mas nada mudava. O bebê não reagia nem ao som da voz, nem à luz, nem ao toque.
Às vezes, André colocava uma música baixa, jazz instrumental, o tipo que sua esposa gostava de ouvir quando o mar batia forte nas pedras. O som preenchia os cômodos por alguns minutos e depois morria sozinho, engolido pelo ar pesado. O cheiro de desinfetante misturado ao perfume antigo dela, um frasco esquecido na penteadeira. era o que restava.
E de alguma forma esse cheiro o mantinha acordado. Naquela manhã, ao atravessar o corredor, ele passou pelo quarto que antes era o estúdio de fotografia da esposa. Lá, as molduras ainda estavam penduradas, todas com os vidros cobertos por lençóis brancos. Ele parou diante de uma delas.
Por baixo do tecido dava para ver a silhueta de uma mulher sorrindo. André ergueu a mão, hesitou e depois baixou de novo. Não conseguia olhar. Era como se cada retrato o observasse de volta, cobrando uma resposta que ele não tinha. Lá fora, o jardim estava impecável, grama aparada, flores trocadas toda semana por jardineiros pagos para não falar.
Mas ninguém usava o jardim. Nem o pai, nem o filho. As janelas viviam fechadas. A mansão, enorme e silenciosa parecia uma concha onde o tempo havia parado. Foi nesse mesmo dia que Valéria chegou. O portão de ferro se abriu devagar, rangendo, e ela ficou parada por um instante, observando o tamanho da casa. O carro do aplicativo já tinha ido embora.
segurava uma bolsa pequena e um envelope dobrado com o contrato de trabalho. Respirou fundo. O ar tinha cheiro de sal e limpeza cara, aquele tipo de aroma que não pertence a ninguém. Jonas, o mordomo, apareceu na porta. Usava um terno preto, mesmo sendo manhã. Falava baixo, como se o silêncio da casa também o intimidasse.
A senhora vai cuidar da limpeza e da organização das áreas internas. O Sr. Whitman é reservado, prefere que tudo se mantenha em ordem, mas sem barulho. Valéria assentiu com um gesto curto, não perguntou nada. Seguiu o homem por um corredor longo, onde o som dos próprios passos parecia errado. As paredes eram claras, lisas e refletiam a luz de forma fria.
Tudo parecia novo, mas sem vida. Nenhum quadro com rostos, apenas paisagens. Nenhum brinquedo fora do lugar, como se ninguém morasse aqui, pensou. Jonas mostrou os cômodos, apontando com a mão, como um guia turístico sem emoção. Cozinha, lavanderia, sala de jantar, quartos de hóspedes. Tudo brilhava, tudo estava intacto.
Valéria limpava, mas não havia o que limpar. O trabalho ali seria manter o vazio impecável. Quando chegaram à sala de brinquedos, ela se deteve. Havia um tapete bege, blocos coloridos empilhados, um urso de pelúcia encostado na parede. No centro sentado, estava o bebê. Ele tinha os olhos abertos, mas não piscava. Segurava um carrinho azul com uma das mãos imóvel.
Valéria ficou sem ar por um instante. Trabalhara em outras casas, cuidara de outras crianças. Nenhuma criança ficava tão quieta. Jonas percebeu o olhar dela. Ele é o filho do Senr. Whitman, nasceu cego. Falou como quem repete uma informação médica, sem dor, sem surpresa. Não adianta tentar brincar. Ele não reage e saiu da sala, deixando o som da porta ecoar.
Valéria continuou ali. Por um momento, esqueceu que estava em serviço. Olhou o menino com atenção, não com pena, mas com um tipo de curiosidade que doía. Os cílios longos, a pele clara demais, o pequeno peito subindo e descendo lentamente, aquele corpo tão vivo e, ao mesmo tempo, tão longe. Ela se ajoelhou, recolheu o urso e o colocou de volta na mão dele. Nada.
Os dedos do bebê relaxaram e o brinquedocaiu de novo. Valéria respirou fundo e saiu devagar, sentindo um nó estranho no peito. Havia alguma coisa naquele silêncio que lhe parecia familiar. Mais tarde, no quarto simples que lhe haviam dado no andar de cima, ela abriu a bolsa e tirou uma pequena touca azul, dobrada com cuidado.
Passou a mão por cima do tecido, como quem acarcia a lembrança. Seu filho, Gabriel, teria feito um ano naquele mês. Ela fechou os olhos por um instante. Não chorou. Há lágrimas que o corpo esquece como defesa. Depois guardou a touca de volta e se deitou. Durante o jantar, ouviu passos pesados vindos da escada principal. André atravessou o corredor sem olhar para ninguém, com o filho no colo.
O bebê estava acordado, mas quieto como sempre. Jonas abriu o caminho e os dois desapareceram escada acima. Valéria ficou parada, segurando o pano de prato, o cheiro de sopa ainda no ar. Naquela casa até o vapor se movia em silêncio. Na manhã seguinte, ela começou a limpar a sala principal. Enquanto dobrava as mantas no sofá, notou que o mesmo urso de pelúcia estava de novo caído no chão, exatamente como antes. Olhou em volta.
Ninguém. Pegou o urso, colocou sobre a mesa e, sem saber por, sussurrou. Você só quer ser visto, né? A frase saiu leve. quase um sopro e sumiu no ar. Por cima das janelas, uma faixa de luz atravessava o cômodo e parava alguns centímetros antes do tapete onde o bebê costumava ficar. Parecia uma linha invisível que a claridade não ousava cruzar.
Valéria ficou olhando aquilo por um tempo, sem entender exatamente o que sentia. Talvez fosse apenas coincidência, talvez fosse um aviso, mas pela primeira vez algo dentro dela se moveu e ela pensou baixinho, sem saber se falava do bebê ou de si mesma. Ninguém devia viver no escuro para sempre. O relógio no corredor marcou às 8 da manhã.
O mar rugiu ao longe e um raio de sol finalmente atravessou a linha da luz, tocando de leve o canto do tapete. Naquele instante, Valéria teve a estranha sensação de que a casa respirava devagar, como se esperasse que alguém em algum momento tivesse coragem de abrir de vez as cortinas. A água morna fazia um som leve, quase como um sussurro.
Valéria girava o registro até encontrar o ponto certo, nem quente demais, nem fria. No vapor, o vidro da janela embaçava, desenhando sombras líquidas pelo chão. Ela dobrou a toalha branca, colocou-a perto da banheira redonda e ajeitou os brinquedos que nunca tinham sido usados. Um patinho de borracha, um copinho azul, uma esponja pequena em forma de estrela.
Tudo parecia parte de um ritual silencioso. Eli estava sentado no tapete com o olhar perdido no vazio. Valéria o observava por um instante antes de pegá-lo no colo. Era leve demais. Ela passou um braço por baixo da cabeça dele e outro pelas pernas, apoiando o corpo com cuidado, como se carregasse algo frágil demais para ser tocado.
O menino não se mexeu. Os olhos abertos, sempre abertos, nemhuma piscada. “Vamos, meu anjo,” murmurou, “ma para si mesma.” colocou-o sobre a toalha e começou a desabotoar o macacão. O zíper desceu devagar, revelando a pele pálida e quente. O cheiro do sabonete infantil se misturou ao ar. O silêncio da casa era tão profundo que dava para ouvir a espuma se formando, pequenas bolhas estourando como sussurros.
Valéria testou a água com o punho, depois mergulhou o corpo do bebê, segurando a cabeça dele com a palma da mão. A água tocou a pele e ele não reagiu. Nenhuma contração, nenhum som. Era como se o mundo inteiro estivesse longe demais para alcançá-lo. Valéria respirou fundo, tentou afastar a sensação de vazio e começou a lavá-lo em movimentos circulares, lentos, quase hipnóticos.
O sabonete escorria em fios brancos, formando pequenas ilhas de espuma no peito e nos ombros de Eli. Ela não percebia o tempo passar. Cada gesto era repetido com cuidado, o mesmo gesto que uma mãe faria. Mas dentro dela havia algo diferente daquela rotina, um instinto, uma inquietação, como se algo estivesse tentando atravessar o silêncio, empurrando de dentro para fora.
A esponja deslizou pela testa do menino. Um pequeno fio de espuma escorreu até o canto externo do olho. E foi, nesse instante, quase imperceptível, que aconteceu. Piscar rápido, suave, involuntário, mas real. Valéria parou. O som da água pareceu sumir. Ela manteve a esponja suspensa no ar, os olhos fixos naquele movimento mínimo. Não podia ter sido o acaso.
Encostou de novo do outro lado o mesmo toque, a mesma linha de espuma. Eli piscou outra vez. O coração dela acelerou. Não havia testemunhas, nem barulho, nem explicação. Apenas ela e aquele pequeno milagre discreto no meio da sala de banho. “Meu Deus”, sussurrou, mas não se moveu. Não quis quebrar o momento.
Continuou lavando o corpo dele, agora com os gestos ainda mais leves, atentos. Esperava outro sinal, um som, um suspiro, qualquer coisa. Mas Eli permaneceu quieto quando o retirou da banheira e o envolveu na toalha. O corpodo bebê exalava calor. Ela o secou devagar, pressionando a pele com pequenos toques, e o vestiu num macacão branco de listras azuis.
Tudo parecia igual, mas dentro dela nada era igual. Aquele piscar tinha mudado alguma coisa invisível. Não era uma cura, não era milagre, mas era vida. E era o bastante para acender algo que há muito tempo ela não sentia. Esperança. No dia seguinte, Valéria repetiu o ritual, mas o coração batia mais rápido.
Tinha medo de se enganar, de ter inventado o que viu. A casa estava muda, como sempre. André trabalhava no escritório, o som distante das teclas ecoando pelos corredores. Ela preparou a banheira de novo, mesma temperatura, mesmo sabonete, mesmo cuidado. Pegou Eli no colo. O bebê encostou a cabeça no ombro dela, o corpo morno e inerte.
Ela o mergulhou devagar e a espuma começou a se formar outra vez, subindo pelos braços, cobrindo o peito. O vapor fazia cóceegas no rosto dela. Valéria passou a esponja pelo ombro dele, depois no pescoço e, por fim, no rosto. Quando a espuma chegou perto dos olhos, Eli piscou de novo. Ela prendeu o ar, esperou. Então ouviu um som mínimo, um sopro vindo da garganta dele, um hum quase inaudível e depois outro mais alongado.
Mo Valéria deixou a esponja cair dentro da água. As bolhas se desmancharam ao redor. Ela não se mexeu. O mundo inteiro pareceu parar ali naquele meio segundo. O menino tinha falado. Não era um som qualquer, era uma palavra incompleta, mas era uma palavra. Vinha de um lugar fundo, guardado, como um segredo antigo.
O coração dela disparou. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. segurou o impulso e continuou olhando. “Fala de novo, meu amor”, murmurou quase sem voz. O bebê abriu a boca, soltou um suspiro fraco e a água ao redor tremeu. Por um instante, os olhos dele pareceram se mover, como se buscassem um ponto. Não era foco total, mas havia intenção.
Valéria sentiu o peito doer, estendeu o dedo e encostou de leve na bochecha dele. Eli moveu a mão, um movimento trêmulo, quase involuntário, e tocou o rosto dela de volta. A pele dos dois se encontrou. O toque era morno, real, vivo. Ela fechou os olhos e encostou o rosto na pequena mão. Foi rápido, mas foi o suficiente para tudo mudar.
O som dos passos de André ecoou no corredor. Ela se endireitou, o coração acelerado, a toalha ainda molhada nas mãos. A porta se abriu. André entrou com o telefone e um palitó jogado sobre o braço. Congelou ao ver a cena. Valéria ajoelhada, o bebê sentado na banheira, espuma até o peito. O olhar dele era de pura confusão.
O que está acontecendo aqui? Valéria não respondeu. Antes que ela pudesse abrir a boca, ele virou a cabeça devagar, olhou na direção da voz e pela primeira vez os olhos dele se fixaram. André deu um passo à frente. Os ombros dele tremeram. O lábio inferior se moveu sem som. O bebê continuava olhando.
Não atravessava o vazio. Não olhava por dentro das coisas. Olhava para o pai. Meu Deus”, murmurou ele. “Ele? Ele me viu.” Valéria mal conseguia respirar. O ar parecia pesado, mas quente. Ele piscou outra vez, como uma confirmação silenciosa. André aproximou-se, ajoelhou ao lado da banheira, sem se importar com a água que escorria no chão caro.
Estendeu a mão, encostou no ombro do filho e a pele do bebê reagiu com um leve arrepio. “Você está me vendo? sussurrou, a voz quebrada. O bebê não respondeu, mas soltou um som abafado, algo entre um sopro e um riso engasgado. Valéria sentiu as lágrimas finalmente caírem. André ficou ali parado, com os olhos fixos no menino.
Aquele silêncio, o mesmo silêncio que antes era a ausência, agora parecia cheio de vida. Ela pegou a toalha, envolveu o bebê com cuidado e o entregou ao pai. André o segurou sem palavras, apenas observando. Ele moveu os olhos de novo, seguindo o movimento da mão dela, que recolhia a esponja caída.
E pela primeira vez em muitos meses, André sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas verdadeiro. Valéria respirou fundo. Não precisava dizer nada. sabia que aquele momento não era dela, era deles. E ainda assim era como se uma parte do mundo tivesse sido devolvida também a ela. A espuma, já quase dissolvida, flutuava sobre a água, refletindo a luz do fim da tarde que entrava pela janela.
Entre as bolhas, uma delas se desfez devagar, deixando escapar um pequeno reflexo de prata. O brilho correu pela borda de uma colher deixada sobre a mesa e subiu pela parede até alcançar o rosto do bebê. Aquele reflexo cintilou nos olhos de ele e, por um segundo, parecia que ele sorria para a própria luz.
O frasco era pequeno, translúcido, com um rótulo cansado. Valéria o viu pela primeira vez de verdade numa tarde de vento, quando Jonas entrou no quarto com um cuidado automático e duas gotas caíram nos olhos de Eli. O menino não chorou, não estranhou, apenas ficou mais quieto do que já era. Quieto de um jeito que dava medo. Ela fingiu que dobrava uma manta.
Quando Jonas saiu, o frasco ficou um instante sobre a mesinha lateral. O sol do fim da tarde passava pela cortina e batia no vidro, riscando o móvel como uma lâmina de luz. Valéria se aproximou sem ruído, pegou, sentiu o frio do plástico na ponta dos dedos, leu. As letras estavam gastas, a data vencida quase apagada. A palavra que conseguiu decifrar vinha como um aviso.
Fotosensibilidade, redução. Guardou aquilo dentro do peito, como quem guarda uma pergunta perigosa. Naquela noite, no quarto simples do andar de cima, a casa parecia finalmente respirar. O mar batia lá fora com um barulho surdo. Valéria encostou as costas na parede, ligou o celular e digitou as sílabas que lembrava do rótulo.
Sites médicos, fóruns de mães, uma ficha técnica antiga, uso restrito, efeitos adversos, pupila lenta, visão borrada. O coração dela acelerou. E se não fosse cegueira? E se o escuro tivesse sido dado? Ela fechou os olhos, respirou fundo, não podia pular conclusões, mas precisava olhar. No dia seguinte, recusou o impulso de mexer em qualquer rotina de supetão.
Repetiu o banho na mesma hora. A luz entrou pela mesma fresta. a esponja, os círculos pequenos, a espuma que escorre até a borda do olho. Eli piscou e por um segundo ela viu de novo aquele microajuste de olhar, como se ele tentasse achar alguma coisa no ar. Mais tarde, depois que Jonas voltou com o frasco e pingou as duas gotas transparentes, ele apagou.
Os braços ficaram ainda mais moles. O olhar voltou a ser uma janela fechada. Valéria anotou no caderno escondido dentro da fronha. Manhã sem gotas. Reação. Tarde com gotas. Silêncio. A conversa com André aconteceu no fim do dia, quando a luz do escritório sempre virava e a cidade lá embaixo parecia um tapete de pontos piscando.
Ele estava em pé, mexendo nos papéis, a gravata afrouxada, o rosto cansado. “Preciso te mostrar uma coisa”, disse ela segurando o caderno. André ergueu os olhos como quem se prepara para um golpe. Valéria não floreou, abriu o caderno, mostrou as linhas curtas, as horas, as anotações secas. Falou do rótulo gasto, da pesquisa no celular, da palavra fotosensibilidade.
Falou do que sentiu no corpo do menino depois das gotas, do que viu antes delas. André ficou em silêncio por um tempo que parecia maior do que a sala. Então puxou uma caixa de arquivo de uma prateleira, jogou sobre a mesa, abriu de uma vez. Prescrições, cartas, exames. As folhas desencontradas faziam um som áspero de papel velho.
Ele cuidava de tudo, André disse, apontando o cabeçalho. Dr. Raimundo Kuser. Valéria buscou no celular primeiro um nome, depois um artigo, depois dois, uma nota oficial. Licença caçada. Tratamentos questionados em recém-nascidos. Uso controverso de fármacos. André leu com o que restava de ar. O rosto dele afundou num lugar que só pai e culpa conhecem. Eu confiei sem perguntar.
A voz quebrou no fim. Valéria respirou firme. A gente pode olhar de novo do jeito certo. Ele fechou a mão sobre o frasco, como quem decide. Chega para agora. Na manhã seguinte não houve gotas, houve sol. Houveram cortinas abertas até o fim, como se a casa finalmente topasse ser atravessada. Valéria colocou Eli no tapete perto da janela.
O menino piscou rápido, como quem se protege do brilho. Depois inclinou a cabeça de leve, 1 mil à procura da faixa de luz no chão. André, parado à distância, deu meio passo sem perceber. Você tá vendo, cara?”, sussurrou, quebrado e rindo ao mesmo tempo. Começou ali o programa da luz. Nada de aparelhos caros. Cartolinas de cores fortes recortadas na mesa da cozinha, círculo vermelho, triângulo preto, estrela azul, uma lanterna pequena, uma colher de aço polido das gavetas.
Valéria movia devagar, bem devagar, da esquerda pra direita. Quando Eli seguiu o movimento com os olhos, mesmo que fosse pouco, ela diminuiu ainda mais, fazendo a luz dançar no metal. O som do mar ficava mais nítido nessa hora. O mundo parecia caber no reflexo prateado. Os dias ganharam ritmo. De manhã, luz e formas. De tarde, espelho no chão.
Primeiro um estranhamento, depois a mãozinha tentando tocar o próprio rosto refletido. Depois a mão batendo de leve no vidro e rindo com um som curto, meio espirrado. À noite, banho, espuma na borda do olho, piscadas certas, uma sílaba solta, às vezes duas. M, má. Valéria anotava tudo. Hora, gesto, reação.
Não era ciência de laboratório, mas era precisão de quem vê o essencial. No quarto dia, André pediu para aprender o jogo. Ficou sentado no chão, terno ainda, gravata torta, segurando a colher como se fosse frágil demais para ser uma colher. Devagar, ela disse com cuidado. Deixa ele achar a luz. Ele obedeceu. Ele seguiu. André riu sem som.
Engoliu um choro que veio como ondas e depois olhou para Valéria de um jeito que não olhava para ninguém desde o acidente. Com respeito, não havia discurso, só um obrigado que ele não falou, mas que estava inteiro nos olhos. Chegou o diada médica nova. Tortá. Patrícia Sanchez tinha o tipo de firmeza que não precisa levantar a voz.
Trazia um estojo com filtros, cartinhas de contraste, uma lanterninha. Me mostra como ele reage”, pediu para Valéria e não para o mordomo. Eles fizeram tudo como sempre. Luz lateral, reflexo na colher, figura de alto contraste. Ele acompanhou, piscou, chegou a esticar o braço na direção da estrela azul.
A doutora observou longa, atenta, sem pressa. No final falou limpo. Visão parcial, provavelmente desde sempre. As gotas podem ter suprimido a resposta. Com estimulação, ele tende a melhorar. André fechou os olhos. Um suspiro atravessou o corpo inteiro. Valéria só a sentiu como quem recebe uma confirmação de algo que o coração já sabia.
A notícia da interrupção do tratamento e da troca de médico correu como vento entre funcionários, fornecedores, uma gente que sempre sabe antes de todo mundo. Na semana seguinte, um advogado conhecido de André chegou com um bloco e um gravador. Reunião curta na sala de estar. Quero abrir um caso, André disse, mas o tom não era de palco, era de pai.
contra o doutor que tratou do meu filho e contra quem tiver assinado embaixo. O advogado perguntou, anotou, pediu datas. Valéria contou do primeiro piscar, do momi, da tarde em que o frasco ficou sobre a mesinha com o rótulo vencido. Contou da diferença antes, depois das gotas, do caderno de anotações.
Ninguém fez dela heroína ali. Ninguém romantizou. Ela também não. A verdade bastava. A imprensa veio como maré. Vãs na porta, câmeras pedindo ângulo, microfones apontados como lanças. André saiu uma vez, falou duas frases. O que aconteceu com meu filho não é pauta de espetáculo. A gente vai pra justiça, não pra televisão. Respeitem a criança.
E entrou. Valéria ficou dentro. Passou com Eli pelo corredor comprido, que antes só tinha o som do relógio. Agora havia outras coisas. O barulho do patinho de borracha caindo, uma risada quebrada, o tropeço macio de uma mão batendo na parede. Ela respirou aliviada por ele não saber o que era a câmera, por ele só saber a língua da luz.
Numa noite de vento, quando a casa finalmente adormeceu, ela desceu sozinha até a sala. O porta-retratos novo já estava no móvel. A foto que André tirou de Eli segurando a colher, fascinado com o reflexo prateado que parecia um raio preso no metal. Valéria ficou olhando. A imagem tinha calor. Não era sobre utensílio, era sobre ver.
Apagou-se a luz do teto. Os jardins lá fora ficaram num escuro recortado e mesmo assim a foto continuou devolvendo um brilho mínimo, como se guardasse um restinho de rua, um reflexo emprestado do mundo. Valéria sorriu sozinha, aquele sorriso curto que não pede plateia, e subiu às escadas, sentindo que a casa, enfim, tinha acordado.
Lá em cima, ele dormia com a respiração regular. A mãozinha ainda aberta, como quem segura um pedaço do dia. O mar continuava batendo constante. No escritório, André encostou a porta com cuidado, passou a mão pelo porta-retratos e apagou o abajur. O vidro da moldura segurou um fio de luz atrasada e devolveu por um instante o mesmo brilho prateado da colher.
Era pouco, mas era o bastante para prometer, mesmo no escuro, que a luz não ia embora tão cedo. O fórum tinha cheiro de ar condicionado e papel úmido. Valéria apertava o paninho de Eli entre os dedos, sentada uma fileira atrás de André. O menino colo dela mastigava a ponta do tecido, alheio ao rebuliço de gravatas, saltos e teclados batendo.
Do lado de fora, o sol do rio estourava nas fachadas. Ali dentro, tudo era branco, frio, iluminado demais. “Silêncio na sala”, disse o oficial, e um psi atravessou o couro de coxichos. A defesa falou primeiro. Palavras alinhadas, termos médicos, regulamentos, variação, padrão, soavam limpos, polidos demais, quase sem gente dentro.
O advogado de André, firme, devolveu com números, datas, frascos, relatórios. Mostrou o rótulo gasto, leu o alerta de efeito adverso. A palavra fotosensibilidade ecoou no microfone como uma lâmina. Valéria manteve os olhos em Eli. Quando ele ficava inquieto, ela cantarolava baixo só duas notas, a mesma melodia que repetia no banho.
Aquele fio de canção ancorava os dois, chamaram Valéria. Ela levantou devagar, o corpo lembrando do peso do luto e da coragem que o luto obriga. No caminho até o púlpito, ouviu alguém tocar no celular, um bip curto e inconveniente, e sentiu a vontade de voltar para a sala de brinquedos para a luz mole do tapete, mas ficou.
Aojou as mãos na madeira, respirou. Seu nome? Valéria Gomes. Sua função na residência do autor? Empregada interna. As perguntas vieram retas. O que viu? Quando? Como? Valéria respondeu sem enfeite. O primeiro piscar na borda de espuma, o som baixinho, mome, a mão que tocou sua face, a reação antes das gotas, o apagamento depois.
Contou do caderno escondido na fronha, das horas anotadas, da colher que virava um pedaçode sol. A voz dela era pequena e clara, o tipo de voz que a sala inteira precisa fazer força para escutar. E a sala fez. Até os teclados pararam. E por que a senhora não falou antes? Que saber a defesa.
Valéria olhou por um instante para o advogado. Depois encarou o juiz. Porque eu precisava ter certeza disse simples. E porque ninguém escuta muito quem limpa. Não foi um golpe, foi só verdade e por isso doeu mais. André foi chamado em seguida. O terno caiu pesado nos ombros dele quando se levantou. O rosto segurava um mundo de coisa.
Ele falou do helicóptero, falou da casa que virou concha, falou da palavra cegueira, como quem fala de uma sentença. Depois tocou na borda do púlpito e mudou de tom, como se o tempo voltasse um pouco. Meu filho me olhou, disse, e a voz falhou. Eu vi, eu senti e eu eu não vi antes. Silêncio. A culpa é minha.
Ele prosseguiu respirando pela boca. De ter confiado sem perguntar, de não ter percebido o óbvio. Mas a gente vai consertar pela lei, pelos próximos. Ele não olhou paraa defesa, olhou para Valéria lá no banco com Eli encostado no peito dela e assentiu como quem agradece em público sem saber fazer discurso. A sentença veio com a seca elegância dos papéis oficiais, negligência e fraude, cassação definitiva, multas, revisão de protocolos para lactentes em caráter imediato.
Não houve aplauso, só um ar coletivo que saiu de pulmões presos. Valéria abraçou Eli mais forte. André encostou a testa no ombro e ficou. O corredor do fórum cheirava a poeira. Os repórteres esticavam microfones. Fleches quebravam a vista. “Uma palavra, Sr. Whitman,”, gritaram. Ele ergueu a mão, protegeu os olhos de Eli e falou apenas: “Respeitem meu filho.
Hoje a justiça falou. O resto a gente faz em casa. E a casa enfim, aprendeu outra língua. Os dias começaram a ter barulhos novos. O tombo do patinho de borracha no piso, o a surpreso quando a lanterna rabiscava a parede. O clique das janelas se abrindo de manhã. A luz entrava, o ar circulava. Valéria descobriu que Eli gostava de sombras grandes na parede.
Ela fazia bichos com as mãos, um jacaré meio torto, um passarinho, e ele ria com um som curto, quase espirro. André aprendeu o tempo da colher, nem rápido demais, nem lento, ao ponto de entediar. O metal virava rio de prata e ele acompanhava olhos mordendo o brilho. Na cozinha, a colher caiu e bateu no chão numa tarde de correria.
Eli tomou um susto e fez bico. O primeiro bico de desgosto que Valéria viu. E foi lindo. Dava para narrar um pedaço de vida inteira naquele bico. Tá tudo bem, campeão André disse, abaixando-se para ficar na altura do olhar do filho. A gente pega outra luz. pegaram sem entrevista, sem postagem, sem foto para fora do portão, mas chegaram cartas e uma com selo dourado, pesava diferente.
Fundação Nacional para Crianças, um convite para uma cerimônia de reconhecimento, não de prêmios grandes, mas de histórias pequenas que abriram caminho. “Ele é só um bebê”, André falou, lendo o texto mais de uma vez. Justo por isso, Valéria respondeu, mexendo açúcar no café. Mostra que dá para aprender a ver. O centro comunitário cheirava a pipoca e sorriso.
Balões coloridos cutucavam o teto. Crianças corriam, tropeçavam, levantavam, rindo. Um rapaz testava o microfone no palco. Um, dois, som. Enquanto um telão exibiu por segundos uma foto aleatória de um cachorro com chapéu, bateu palmas descoordenadas e apontou para a luz que vinha dos refletores. “Ele gosta disso,” Valéria disse, ajeitando a gola da camisa dele.
Puxou o pai. André sorriu nervoso, passando a mão no cabelo. O apresentador chamou nomes, histórias, lutas que vinham de longe. Quando falou ele e Whitman, o telão acendeu com uma sequência de imagens. A janela aberta, o tapete, a espuma no canto do olho, o reflexo da colher na parede, uma mãozinha tocando o espelho.
No fundo, uma narração suave, o bebê que viu a espuma. Valéria sentiu o coração subir à garganta. André ficou de pé com Eli no colo e os três caminharam até a escada. A medalha era pequena, fita azul, brilho tímido. Eli agarrou e tentou morder. A plateia riu. Ele adorou a risada e bateu palmas do jeito dele, torto, lindo.
“Há mais uma pessoa que precisamos chamar”, disse o apresentador, olhando para a plateia. Aquela que viu antes de todo mundo, a guardiã da luz, Valéria Gomes. Ela congelou por um segundo, braços pesaram, pernas esqueceram como andar. André virou-se, ofereceu-lhe um olhar que dizia: “Vai”. Valéria foi. Subiu as escadas, sentindo a madeira vibrar debaixo dos pés.
No palco, a luz do refletor parecia quente demais. Ele a viu chegando, alargou o sorriso, estendeu os braços, aquele gesto antigo e novo ao mesmo tempo. Ela pegou, o corpo dele encaixou no seu como se fosse casa antiga. O auditório, que era barulhento há dois minutos, fez silêncio. “Mamãe”, disse ele. Claro, nítido, de um jeito que não dava para duvidar. A palavra atravessou a salacomo uma brisa.
Pessoas levaram a mão ao rosto. Uma criança na primeira fila repetiu baixinho, imitando. Valéria fechou os olhos por um instante, depois riu chorando. Aquele riso que é alívio e susto juntos. Não explicou, não pediu desculpa, não disse não. Eu só porque não era só. Era. O apresentador colocou uma segunda medalha em seu pescoço, fita prateada.
Ela não fez discurso, disse obrigada com a boca e completou com o olhar, olhando André, que assentiu com a cabeça, emocionado, sem vergonha de parecer. A música entrou leve, a plateia levantou, a luz do palco refletiu em alguma coisa metálica atrás e desenhou um risco de prata no teto. Valéria viu ele também. Riram juntos como se reconhecessem um amigo antigo.
Voltaram de carro pela estrada que morde o mar. O rio brilhava inteiro, uma cidade de água nos olhos. No banco de trás, Eli adormeceu com a medalha apoiada no queixo, babando fita e sonho. “Obrigado”, André, disse sem se virar. Valéria não respondeu. Às vezes palavra estraga o que já está dito. Ela encostou a cabeça no vidro.
e ficou vendo os túneis virarem quadros de luz. Em casa, a porta não fez barulho. As cortinas já não eram muralha, eram convite. Valéria guardou o álbum de fotos da cerimônia na prateleira baixa, no mesmo nível do tapete. Queria que Eli pudesse pegar quando quisesse. Ao lado, a moldura antiga com a foto da colher continuava guardando um resto de rua, um resto de mundo.
André apareceu na porta da sala de brinquedos, sem sapatos, camisa fora da calça, um jeito de domingo que não tinha antes. Ele vai acordar daqui a pouco disse. Quer ficar? Valéria assentiu sentando no chão. O silêncio que se instalou não era o de antes, tinha som de casa. Quando Eli acordou, veio engatinhando até o álbum. puxou, deixou cair, riu do tombo.
Valéria abriu na página da fita azul. Ele tocou a foto e depois o próprio peito, como se comparasse brilhos. É sua ela disse, encostando a testa na dele. E é nossa. André os olhou de longe, encostado no batente, sem pressa de estragar a cena com urgência de adulto. O fim de tarde entrou em câmera lenta, um pássaro cortando o céu da varanda.
Uma poça de sol mudando de lugar no chão, o mar respirando do lado de fora e então aconteceu um pequeno nada que ali era tudo. O vento mexeu de leve a cortina que abriu mais um palmo. A faixa de luz atravessou a sala e acertou em cheio a moldura da colher. O metal devolveu um reflexo dançante no teto, como a água quando diz vem.
Valéria seguiu o reflexo com o olhar até ele pousar suave no rosto de Eli. O menino piscou e sorriu. A casa sorriu junto. E pela primeira vez desde que tudo começou, parecia óbvio. A luz tinha decidido ficar. M.