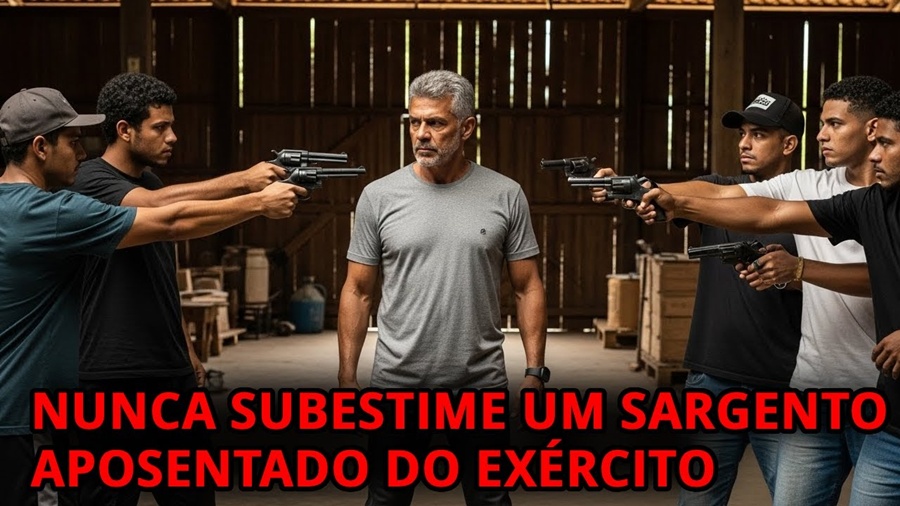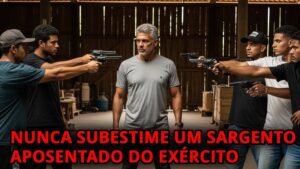A cidade ainda respirava quando Eduardo Monteiro voltou ao prédio naquela noite. Não era silêncio. São Paulo nunca é silêncio. Era um cansaço pesado, espalhado no ar como poeira fina. O tipo de cansaço que fica depois das 10, quando os escritórios já apagaram as luzes, mas as pessoas continuam trabalhando por dentro.
O elevador subiu sozinho, sem música, sem conversa. O reflexo no espelho mostrava um homem de 40 e poucos anos, terno escuro, impecável, gravata frouxa demais para quem ainda estaria ali aquela hora. Os olhos de Eduardo estavam abertos, atentos, mas vazios. Havia anos que estavam assim. Quando as portas se abriram no 15º andar, o corredor o recebeu com luz branca e fria.
O cheiro era de produto de limpeza recente, misturado com algo metálico, quase hospitalar. O prédio parecia limpo demais, organizado demais, morto demais. Eduardo caminhava em direção à saída quando ouviu. Não foi um choro alto, foi pior. Era um som quebrado, irregular, como se alguém estivesse tentando chorar em silêncio. E falhando, ele parou.
Por um segundo, pensou que fosse imaginação, o corpo pregando peças, como fazia desde a morte de Helena. Às vezes, o cérebro inventava sons para preencher o vazio, mas o som veio de novo, mais fraco, mais perto. Eduardo virou devagar, seguindo o corredor lateral que quase ninguém usava.
Ali ficavam os depósitos, a escada de emergência e o banheiro de serviço. A porta estava entreaberta, a luz lá dentro piscava. Eduardo hesitou, não porque tivesse medo, mas porque algo nele sabia que se abrisse aquela porta não sairia igual. Ele empurrou. O cheiro mudou primeiro. Não era só limpeza, era suor frio, leite azedo, medo.
No chão, encostada na parede de azulejos brancos, estava uma mulher jovem, magra demais para alguém que tinha acabado de ter filhos. O uniforme azul de limpeza estava sujo, amarrotado, rasgado no ombro, o cabelo preso às pressas, alguns fios grudados no rosto molhado de lágrimas. Nos braços dela, dois bebês gêmeos.
Um deles respirava com dificuldade, o rosto vermelho, quente demais, a boquinha aberta em um gemido fraco, quase um pedido de desculpa por existir. O outro estava acordado, agarrado à blusa da mãe, com força absurda para alguém tão pequeno, como se soubesse que soltá-la não era uma opção. A mulher ergueu os olhos e ali Eduardo sentiu o golpe.
Os olhos dela não pediam nada, não imploravam, não acusavam, eles apenas não aguentavam mais. Desculpa, senhor. A voz saiu baixa, quebrada. Eu já vou. Eu só Ela tentou se levantar, não conseguiu. O bebê doente choramingou mais alto e ela o apertou contra o peito, como se o corpo dela fosse a última barreira entre ele e o mundo. Eduardo não disse nada.
ficou parado como ficou anos atrás no hospital público às 11:30 da noite, quando um médico saiu de uma sala branca demais para dizer que Helena não tinha resistido. O mesmo cheiro, a mesma luz fria, a mesma sensação de chegar tarde demais. “Não se mexa”, ele disse. E a própria voz o surpreendeu. Soou dura, fria.
O que aconteceu? A mulher abaixou a cabeça. Me mandaram embora hoje. As palavras saíram rápidas, como se parasse, não conseguisse continuar. Disseram que eu roubei um celular, mas eu não roubei nada. Juro pelos meus filhos. Juro. Eduardo reparou nas mãos dela. Tremiam. Não de culpa, de exaustão. Tiraram meu último pagamento. Disseram que era para cobrir o prejuízo.
Ela respirou fundo. Meu filho está com febre desde ontem. Eu não tenho dinheiro para médico. O bebê doente gemeu de novo, mais fraco. Eduardo sentiu algo subir pelo peito. Não era pena. Não, exatamente. Era uma raiva silenciosa, concentrada. O tipo de raiva que não grita. Quem te mandou embora?”, perguntou a Dra. Patrícia do RH.
Ela limpou o rosto com as costas da mão. Disse que tinham me visto pegando o celular. Ninguém me ouviu. Ninguém. Eduardo conhecia Patrícia Almeida, elegante, eficiente, sempre correta demais, sempre sorrindo sem os olhos. “Por que você ainda está aqui?”, Ele perguntou mais baixo agora. A mulher hesitou.
Quando falou, a vergonha era quase palpável. Porque hoje também me tiraram do quarto onde eu morava. Três meses de atraso. A voz falhou. Eu coloquei meus filhos no carrinho e vim para cá, porque aqui tem aquecimento. Eu achei que ninguém viria nesse banheiro. Ela não estava pedindo ajuda. Estava explicando um erro. Só precisava que eles não passassem frio essa noite.
Eduardo olhou ao redor. O banheiro era pequeno, impessoal. Um lugar por onde ninguém passava tempo suficiente para perceber a vida. Um lugar invisível. “Qual é o seu nome?”, perguntou quase sem perceber que perguntava. Ana Luía Santos. Ela respondeu. E eles são Lucas e Miguel. Um ano e meio, Ana Luía. O nome ficou suspenso no ar.
Helena também tinha um nome suave. Começava com vogal, terminava em A. Eduardo nunca acreditou em sinais, mas aquele detalhe o atingiu como um sussurro antigo. Ele olhou novamentepara o bebê doente, depois para o outro, que não desviava os olhos dele. Eduardo tirou o relógio do pulso, um gesto automático, quase ritualístico.
O Patec Felipe pousou sobre a pia branca, fazendo um som seco demais para o silêncio do lugar. Então ele tirou o palitó. A mulher arregalou os olhos. Eduardo dobrou o tecido com cuidado e o colocou no chão frio, envolvendo o bebê com febre, não como um gesto grandioso, mas como quem cobre alguém que dorme. “Vamos sair daqui”, ele disse: “Senhor, eu não posso.
” Ana Luía começou: “Eu não estou perguntando se você pode.” Ele interrompeu sem elevar a voz. Estou dizendo que nós vamos agora. Ela olhou para ele como se estivesse diante de algo que não entendia. Talvez estivesse. Homens como ele não costumavam falar assim: “Não ali, não com ela.” O bebê nos braços dela respirou mais fundo. Depois soltou um gemido cansado.
Foi isso que decidiu tudo. “Tá”, ela sussurrou. “Obrigada. Eduardo ajudou-a a levantar. pegou o carrinho velho, a bolsa rasgada. Quando passaram pela porta do banheiro, o corredor pareceu mais estreito. Lá fora, o elevador os esperava. As portas se fecharam, refletindo dois mundos no espelho.
O terno caro, o uniforme gasto, o homem que tinha tudo, a mulher que não tinha mais nada. Enquanto o elevador descia, Eduardo percebeu algo desconfortável. Ele não estava salvando alguém. Não ainda. Ele estava abrindo uma porta que talvez nunca devesse ter sido aberta. E pela primeira vez em muitos anos, isso não o assustava.
O vento da madrugada bateu no rosto de Eduardo assim que as portas giratórias se abriram. São Paulo estava úmida, cheirando a asfalto molhado e gasolina fria. Ana Luía saiu atrás dele com cuidado, empurrando o carrinho velho enquanto segurava Lucas contra o peito. Miguel dormia encolhido, exausto demais para chorar. Eduardo abriu a porta do carro sem dizer nada.
O interior ainda guardava o calor do motor. Quando Ana colocou os bebês no banco de trás, o vapor subiu dos corpos pequenos, como se o frio estivesse finalmente desistindo. Ela respirou fundo, um suspiro que parecia guardado há dias. O carro arrancou. As luzes da cidade passaram rápidas pelas janelas, alongadas pela chuva fina que começava a cair por alguns segundos.
Só se ouviu o som do limpador de para-brisa e a respiração irregular do bebê doente. “Ele está muito quente”, murmurou Ana, quase para si mesma. Eduardo olhou pelo retrovisor. Lucas estava com os olhos semicerrados, a pele vermelha demais para uma criança. Eduardo sentiu o estômago apertar. Aquilo não era abstração, não era estatística, era um corpo pequeno lutando para respirar.
Vamos ao hospital mais próximo”, disse ele ao motorista. O prédio público surgiu alguns minutos depois, iluminado, cheio de gente, cheio de espera, Eduardo desceu primeiro. O cheiro o atingiu de imediato. Álcool, suor, café velho, crianças chorando, adultos cansados demais para reclamar. Ana hesitou na porta, o frio voltou a morder.
Eles se aproximaram da recepção. A atendente falava sem levantar os olhos, repetindo as mesmas frases automáticas para cada pessoa da fila. “Quantas horas de febre?”, perguntou já digitando. “Desde ontem”, respondeu Ana. Ele está piorando. A atendente fez um gesto vago com a cabeça. Precisa aguardar sem azul. Eduardo olhou para o painel.
O número piscava lento demais, gente demais, tempo demais. Ana sentou numa cadeira de plástico, apertando Lucas contra o peito. Miguel começou a chorar baixo, acordado pelo barulho. Ela tentou acalmá-lo com a mão livre, o corpo se curvando para proteger os dois ao mesmo tempo. Eduardo ficou em pé imóvel. O mesmo corredor, o mesmo som.
Anos atrás, Helena havia passado por ali. Ele lembrava da sensação exata, a impotência grudando na pele. Ele se aproximou de Ana. Não vai dar tempo, disse baixo. Ela ergueu o rosto, assustada. Como assim? Eduardo não respondeu. Pegou o telefone, falou rápido, direto. Em menos de 2 minutos, o carro já estava de volta. rua.
“Para onde vamos?”, Ana perguntou confusa, enquanto o motorista acelerava. “Para um hospital onde ninguém vai pedir senha”, respondeu Eduardo. Ela não disse nada, só segurou Lucas mais forte. O hospital particular apareceu como um bloco de luz no meio da madrugada. Tudo era diferente ali. O silêncio, o cheiro, o jeito como as pessoas se moviam.
As portas se abriram antes mesmo de ele chegarem perto. Emergência pediátrica disse Eduardo. Agora ninguém discutiu. Ninguém perguntou nada. Lucas foi levado numa maca. Ana ficou parada por um segundo, como se o chão tivesse sumido. Eduardo tocou de leve no braço dela. Vai com eles. Ela correu atrás da maca. Miguel ainda nos braços.
Eduardo ficou do lado de fora, observando através do vidro. Viu Ana responder perguntas com a voz trêmula. Viu as mãos dela nunca soltarem o filho, nem quando pediram. Minutos depois, uma figura conhecida cruzou o corredor. Patrícia Almeida.Salto alto, taor claro, maquiagem impecável. O tipo de presença que ocupava espaço sem pedir licença.
Ela parou ao ver Ana. Depois olhou para Eduardo. Que surpresa disse com um sorriso fino. Não sabia que agora trazíamos acompanhantes assim para cá. Ana ouviu, endireitou as costas, ficou em frente aos filhos. “Meu filho está doente”, disse firme. “Só isso?” Patrícia soltou uma risada curta. Curioso.
Ontem você estava roubando o celular, hoje está em hospital de luxo. As histórias sempre mudam, não é? O silêncio ficou pesado. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Não foi raiva explosiva, foi algo mais perigoso, algo calmo. “Você está enganada”, disse ele. Patrícia virou-se para ele surpresa. Eduardo, eu só estou tentando ajudar. Funcionários assim costumam.
Não termine essa frase, ele interrompeu. A voz baixa, controlada. Você disse que havia provas? Claro que há, respondeu ela. Câmeras? Eduardo assentiu. Ótimo. Vamos vê-las. Patrícia piscou confusa. Agora? Agora. Não houve gritos, não houve escândalo, apenas passos firmes pelo corredor até a sala de segurança. O técnico abriu os arquivos.
As imagens surgiram na tela. Limpeza de escritório. Ana trabalhando sozinha, concentrada. Depois, Patrícia entrando na sala 512, mexendo na mesa, pegando o celular, guardando na bolsa. O vídeo continuou. Patrícia saindo. Minutos depois, Ana entrando para limpar. O silêncio ficou absoluto. Patrícia empalideceu. Isso. Isso não prova nada, balbuciou.
Eduardo virou-se para ela. Prova tudo. Ele fez uma ligação curta. Quando desligou, dois seguranças já se aproximavam. “A senhora não pode mais permanecer aqui”, disse um deles. Patrícia tentou falar. Não conseguiu. Saiu com o rosto rígido, o som dos saltos ecoando pelo corredor como algo quebrado. Eduardo voltou à emergência.
A médica se aproximou. Infecção respiratória explicou. Precisaremos internar para antibiótico intravenoso. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Eu eu não posso pagar. Isso já foi resolvido disse a médica com um sorriso breve. Ana olhou para Eduardo. Os olhos dela estavam cheios de algo novo. Não era gratidão exagerada, era confusão, era medo de acreditar.
Horas depois, Lucas dormia melhor. A febre começava a ceder. Miguel respirava tranquilo no colo da mãe. Ana se sentou no sofá da pequena sala. pela primeira vez naquela noite, permitiu que o corpo relaxasse. Eduardo ficou na porta, observando. “Por que você fez isso?”, ela perguntou sem olhar para ele. Eduardo demorou a responder. Olhou pela janela.
A chuva caía suave, aquecendo o vidro com pequenas linhas de água. “Porque ninguém deveria passar frio assim”, disse por fim. Ana ergueu o rosto. Os olhos dela encontraram os dele. Não havia desconfiança ali. Havia algo mais perigoso. Respeito. Do lado de fora, a madrugada seguia fria. Mas ali dentro, pela primeira vez, o calor não vinha do aquecedor, vinha de uma escolha.
A casa de Eduardo nunca tinha sido silenciosa daquele jeito. Não o silêncio confortável de um domingo à tarde, mas um silêncio atento, como se as paredes estivessem ouvindo. Era cedo. A luz da manhã entrava oblíqua pelas janelas altas, desenhando faixas claras no piso de madeira. Ana Luía caminhava devagar pelo corredor, descalça, segurando uma xícara de café com as duas mãos.
O cheiro era simples, caseiro, diferente de tudo que aquela casa costumava conhecer. Eduardo observava à distância, não invadia, não comandava. Pela primeira vez ele estava aprendendo a ficar. Os dias tinham passado rápidos desde o hospital. Ana aceitara o trabalho com contrato, salário, horários claros, nada de favores.
Eduardo fez questão. Não queria que aquilo começasse torto. Não queria dever nada a ninguém, nem que ninguém lhe devesse. Ela organizava a casa com uma atenção silenciosa. Não limpava só a poeira, limpava os cantos esquecidos, recolocava objetos fora do lugar. abriu janelas que estavam fechadas havia anos e Eduardo começou a perceber detalhes.
Ana falava baixo com os filhos, mas firme. Não pedia, orientava. Quando Lucas acordava assustado, ela não corria. Sentava ao lado, respirava com ele até o choro virar sono. Miguel ria fácil, um riso alto, cheio, que coava pela casa, e deixava Eduardo sem saber o que fazer com as mãos. Numa tarde, enquanto Ana organizava o escritório, Eduardo ficou parado à porta.
Viu quando ela encontrou uma pasta antiga sobre a mesa, não abriu, apenas leu o nome na lombada. Santos Têxtil. Arquivo 2019. Ela congelou. Eduardo sentiu o impacto como se fosse nele. Isso. Ana começou, mas parou. Desculpa, eu não estava mexendo. Ele entrou. Não precisa se explicar, disse baixo. Esse nome te diz alguma coisa? Ana respirou fundo, sentou na cadeira.
O corpo perdeu um pouco da rigidez. Era a empresa do meu pai. Eduardo fechou a porta. O ar mudou. Ana contou devagar. As palavras vinham medidas como se cada uma tivesse peso. O pai, a fábricapequena no interior, os funcionários que conheciam pelo nome, o crescimento, a entrada de um investidor jovem, educado, encantador. Rafael Costa, ela disse.
Eu namorava com ele. Eduardo sentiu o estômago apertar. O nome não era estranho. Ana continuou. o acesso aos documentos, as perguntas inocentes, as decisões erradas. Depois o colapso, clientes indo embora, processos, dívidas, o pai adoecendo, o infarto no escritório vazio. Ela não chorou, não ali, só segurou a xícara com força demais.
Ele sumiu quando eu disse que estava grávida concluiu como se nunca tivesse existido. Eduardo se sentou, tirou os óculos, passou a mão pelo rosto. Ele conhecia aquela história, conhecia os bastidores, o roubo de patentes, a cópia barata, a empresa que cresceu em cima da queda de outra. Ana, ele começou, parou, escolheu as palavras.
Seu pai ajudou o meu anos atrás, quando a empresa do meu pai quase quebrou, ela levantou os olhos surpresa. Ele emprestou dinheiro sem juros, sem contrato. Só disse: “Quando puder, você devolve ou ajuda outra pessoa”. O silêncio ficou pesado. Ana engoliu seco. “Meu pai nunca falou disso”, ela murmurou. O meu falava sempre. Eduardo respirou fundo, me fez prometer que se um dia eu pudesse, devolveria aquele gesto.
Ana ficou em pé, andou até a janela, olhou o jardim onde os filhos brincavam com dona Rosa, rindo alto. Então é por isso disse, sem se virar. Você não me ajudou por pena. Não respondeu Eduardo. Nem por acaso. Ela se virou devagar. Os olhos brilhavam, mas não de gratidão fácil. Era algo mais complexo. E o Rafael perguntou. Eduardo não desviou.
Ele está envolvido. Eu tenho provas. A resposta veio dias depois, quando Rafael apareceu. Era fim de tarde. O céu carregado anunciava chuva. O portão se abriu devagar e o homem entrou como quem conhece o caminho, mais magro, mais velho. O mesmo sorriso treinado, Ana viu primeiro.
O corpo dela reagiu antes da mente, endureceu, protegeu os filhos com o braço. “Eu só quero conversar”, disse Rafael, levantando as mãos. São meus filhos. Eduardo surgiu atrás dela. “Você perdeu esse direito”, disse firme. Rafael riu nervoso. Isso é ridículo. Eu posso explicar tudo. Ana, eu não diga meu nome. Ela cortou. A voz baixa, perigosa. Ele tentou se aproximar.
Eduardo deu um passo à frente. Saia. Rafael olhou em volta. A casa, o jardim, as crianças. Então é isso, murmurou. Você trocou tudo isso por ele? Ana avançou um passo. O olhar não tremia. Eu nunca tive nada para trocar, disse. Você é que roubou. Rafael ficou pálido. “Vocês não têm ideia do que estão fazendo”, disse recuando.
“Meu pai não vai deixar isso barato.” Ótimo, respondeu Eduardo. Nem eu. O processo começou silencioso. Advogados, documentos, datas, números, sem espetáculo, sem entrevistas. Ana teve que reviver tudo, assinar papéis, ouvir versões distorcidas da própria vida. À noite sentava no quarto dos filhos e respirava fundo até a sensação no peito diminuir.
Eduardo não prometia vitórias, só presença. O dia da audiência chegou com céu pesado. Dentro do tribunal, o ar era seco. Rafael evitava olhar para Ana, o pai dele, rígido, confiante demais, até que os documentos apareceram na tela, as patentes, as datas, os e-mails. O murmúrio tomou a sala. O juiz não levantou a voz, não precisou.
Sugir um acordo, disse depois de ler tudo. Antes que isso avance, Rafael abaixou a cabeça. Ana sentiu algo estranho. Não alegria, não vingança, um alívio contido. O acordo foi assinado. Indenização, reconhecimento público. Rafael renunciando a qualquer direito sobre as crianças. Do lado de fora, a chuva começou a cair forte.
Ana ficou parada na escadaria, sentindo a água bater no rosto. Eduardo aproximou-se. Acabou, disse. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não era vitória, era fechamento. Ao longe, um trovão cortou o céu, mas dentro dela, pela primeira vez em anos, o passado tinha parado de gritar.
A chuva voltou numa sexta-feira silenciosa, fina. insistente, do tipo que não pede licença. Eduardo estava no escritório quando o telefone vibrou. Não era número conhecido. Ele atendeu mesmo assim. Eduardo Monteiro, a voz do outro lado parecia cansada. Sou do Hospital Santa Clara. É sobre Rafael Costa. Eduardo fechou os olhos antes mesmo de ouvir o resto.
Algumas histórias avisam quando estão chegando ao fim. Rafael havia sofrido um acidente na marginal, grave, instável. A família fora avisada. Não sabiam se ele sobreviveria à noite. Quando Eduardo desligou, ficou alguns segundos parado, observando a cidade pelas janelas altas. Os carros seguiam indiferentes. Ele pensou em Ana, pensou nos meninos, pensou no passado que mesmo depois de cobrado, às vezes insistia em voltar para pedir mais.
Ana ouviu a notícia em silêncio. Estava sentada no tapete da sala, montando um quebra-cabeça com Miguel enquanto Lucas desenhava ao lado. Quando Eduardoterminou de falar, ela não reagiu de imediato, apenas respirou fundo. “Eu preciso ir”, disse por fim. “Não por ele, pelos meus filhos”. Eduardo assentiu, não tentou impedir, não perguntou o porquê, apenas pegou as chaves no hospital, o cheiro era o mesmo de sempre. Álcool, espera, cansaço.
Rafael estava ligado a máquinas, pálido demais para aparecer o homem que um dia prometera tudo. A Ana se aproximou da cama com passos curtos. Não havia raiva no rosto dela. Havia algo mais difícil de carregar. Eles estão bem. disse ela baixinho, como se ele pudesse ouvir. Cresceram, são felizes.
Ela não pediu desculpas, não ofereceu perdão. Apenas ficou ali alguns segundos, deixando que o silêncio fizesse o trabalho que palavras não conseguiriam. Quando saiu do quarto, sentiu o peso cair dos ombros. Não era tristeza, era encerramento. Rafael não resistiu à madrugada. Os dias seguintes passaram sem barulho, sem manchetes, sem drama.
O acordo judicial seguiu seu curso. A indenização caiu na conta. O nome do pai de Ana foi limpo oficialmente. Um jornal local publicou a retratação numa coluna discreta. Era suficiente. Numa tarde clara, Ana chamou Eduardo para conversar. Sentaram-se no jardim. As árvores balançavam devagar. As crianças brincavam perto, sob o olhar atento de dona Rosa.
“Eu vou sair do trabalho”, disse Ana direta. Eduardo franziu a testa surpreso. “Você não precisa. Eu sei.” Ela sorriu de leve, “mas quero. Antes de qualquer outra coisa.” Ele entendeu. Demorou um segundo, mas entendeu. Não quero que exista dúvida, continuou ela. Nem para mim, nem para você. Eduardo respirou fundo.
Aquilo doía e aliviava ao mesmo tempo. “Eu também preciso dizer algo”, respondeu. Eu não consigo mais fingir que isso é só convivência. Ana não respondeu de imediato. Observou os filhos correndo, o riso fácil. A normalidade que parecia recém descoberta. Ficar, disse ela por fim. Para mim sempre foi escolha, nunca obrigação. Eduardo sentiu o impacto daquelas palavras mais forte do que qualquer declaração.
Não era um pedido, era um acordo silencioso. Eles não se beijaram naquele dia. Não precisaram. O que havia ali era maior que pressa. O tempo fez o resto. Ana investiu parte do dinheiro em algo simples e necessário. Um pequeno fundo para mulheres demitidas injustamente, mães que precisavam de tempo, de orientação, de um primeiro passo.
Não deu entrevistas, não colocou seu nome em placas, preferiu trabalhar em silêncio. Eduardo passou a chegar mais cedo em casa. Jantava, ouvia histórias sobre desenhos animados, sobre dias na escola, sobre pequenas vitórias que antes não faziam parte do vocabulário dele. Patrícia Almeida enviou uma carta meses depois.
Não pediu desculpas longas, apenas reconheceu o erro. Disse que estava em terapia, que aprendera tarde demais. Ana leu a carta duas vezes, depois guardou numa gaveta. não respondeu. Não precisava. Numa noite quente, enquanto a cidade respirava lento, Eduardo encontrou Ana na cozinha. Ela secava pratos, distraída. Ele encostou na bancada sem invadir o espaço. Eu pensei muito disse.
Sobre o que significa ficar. Ela levantou o olhar. E ficar é assumir, respondeu ele, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Ana colocou o pano sobre a pia, aproximou-se, tocou o braço dele com cuidado. “Então fica”, disse simples assim. Foi ali, entre o barulho distante da rua e o cheiro de comida quente, que tudo se encaixou.
Meses depois, a casa estava diferente, não por reformas, mas pelo som, risadas, passos, vida. Eduardo observa Ana e os meninos no quintal numa manhã de domingo. O sol batia de frente, obrigando-o a semicerrar os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensava no passado, nem no futuro. Apenas naquele instante, Miguel correu até ele, tropeçando, segurando um guardanapo de papel todo amassado.
“É para você”, disse orgulhoso. Eduardo pegou o guardanapo. Havia um desenho torto, quatro figuras de mãos dadas, sob algo que parecia um sol demais. Ele sorriu e ficou: